Um estudo conduzido pelo Alto-Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados, verificou que os seus trabalhadores humanitários estavam quase 10x mais em risco de desenvolver distúrbios de ansiedade do que a população mundial (1, 2). A ansiedade é apenas um exemplo da desproporcionalidade da prevalência de distúrbios psicológicos entre estes profissionais e a população em geral. Perante tão drásticos números, pergunto-me: de onde surge a vulnerabilidade na saúde mental destas pessoas? O que há de tão particular nas condições do trabalho com pessoas refugiadas?
De modo a esclarecer estas e outras questões, entrevistei três pessoas que desenvolveram trabalho voluntário em campos de refugiados na Europa, nomeadamente em França, na Grécia e na Sérvia. Procurei compreender as motivações e expetativas que desencadearam o começo desse trabalho, os desafios que enfrentaram na sua duração e o impacto que esses tiveram nos dias de hoje. Numa conversa que começou nos impactos da saúde mental destes voluntários, levantaram-se questões sobre as condições de trabalho nestes espaços, quem “merece” o apoio psicológico, a sustentabilidade da assistência humanitária, a resiliência e os mecanismos adotados face aos desafios emocionais e psicológicos.
Luís Palha trabalha atualmente para o JRS – Serviço Jesuíta para os Refugiados – e esteve durante 3 meses a prestar serviços numa casa de acolhimento em Atenas em 2016 (Lê entrevista completa)(3). Cláudia Sabença passou 4 anos como voluntária e coordenadora a trabalhar na distribuição de bens e prestação de serviços em campos irregulares e regulares em França, na Sérvia e na Grécia (Lê entrevista completa) (4). Nima Moradi fez voluntariado no campo de pessoas refugiadas em Samos, enquanto esperava pelo reconhecimento do seu pedido de asilo, e neste momento integra a direção da ONG ForRefugees (Lê entrevista completa) (5).
Na primeira secção deste artigo, exploro a associação da palavra “crise” com “refugiados”, que procura culpabilizar as pessoas que “temendo ser perseguida por motivos de raça, religião, nacionalidade, grupo social ou opiniões políticas” (6) procuram asilo na Europa. Exploro, ainda, a “catástrofe de saúde mental” nos campos de refugiados, o sentimento de urgência por parte dos voluntários e a falta de mecanismos eficientes que deem respostas às pessoas refugiadas e que protejam os seus direitos. De seguida, aprofundando os temas que emergiram ao longo da condução das entrevistas, exploro as motivações e expetativas dos voluntários, o “cuidar da espera”, o futuro das grassroots, e o voluntariado e a saúde mental. Para concluir, deixo algumas recomendações dadas pelos voluntários para as pessoas que tenham interesse numa experiência de voluntariado ou em trabalhar com pessoas refugiadas.
O propósito deste artigo é servir como ponto de partida para uma conversa muitas vezes negligenciada. Através da discussão da saúde mental nas migrações e refugiados, procuro expandir a discussão de modo a abranger atores humanitários no desgaste emocional e psicológico. O investimento e a proteção das pessoas refugiadas é algo que nunca coloco em causa; ignorar a saúde mental de voluntários e refugiados resultará apenas em mais dano. A ação humanitária e a intervenção na vida de pessoas em circunstâncias mais vulneráveis devem ser sempre questionadas e pensadas, de forma a garantir que os direitos universais que defendemos estão a ser respeitados e postos em prática.
“Crise de Refugiados”
Presente no vocabulário quase diário de um médico, “crise” surge ao longo da História em vários contextos e definições. Crise epilética, crise económica, crise de valores, crise climática, crise de fé, crise energética, …. Originária do latim, crisis define-se como “momento de decisão, de mudança súbita”, e surge na Medicina ainda na Grécia Antiga, sendo definida krísis como “[…] o momento decisivo, para a cura ou para a morte” (7).
A banalidade do uso da palavra crise vem atenuar a sua sensação de urgência e a consequente dimensão da intervenção humanitária. Assim, vemos como crises são perpetuadas no tempo, resultando em olharmos para as mesmas como “mais uma”. Este artigo foca-se em “mais uma” crise humanitária: a que afeta a vida das pessoas refugiadas.
Apesar de, no palco mundial, ser ofuscada a gravidade desta crise humanitária, Luís e Cláudia referem a existência constante de uma sensação de urgência no terreno, confrontados com novas intercorrências diariamente, que contribuem para um estado de stress constante e aumento do risco de burnout (3, 4). Porém, esta sensação de urgência pode ser por vezes ilusória. Cláudia explica que a urgência pode estar ligada a um “sentir que se é insubstituível”, e que na análise destas urgências deve ser tido em conta a natureza do trabalho desenvolvido (“[…][na] distribuição de roupa se calhar não existe o mesmo sentido de urgência que estar a responder a crises médicas. […] há mais espaço para ter políticas mais normalizadas”) (4). Neste sentido, surge a importância da organização da intervenção e da gestão de recursos humanos.
A expressão “Crise de Refugiados” tem vindo a ser utilizada de modo a desviar o cerne do “problema” para pessoas individuais, desviando o foco de políticas de securitização e anti migratórias. Através de narrativas desumanizantes que associam pessoas em busca de segurança a “migrantes ilegais”, “ataques híbridos à segurança internacional”, “terroristas”; as pessoas refugiadas são retratadas como simples corpos agressores. Mas nunca as ouvimos a falar, nem nunca as vemos a ter uma voz, e facilmente esquecemos que por detrás de tudo isto temos uma pessoa de carne e osso, que temos milhares de indivíduos por trás, muitas vezes ignorados para o nosso conforto. É difícil negar que não exista uma crise que envolve as pessoas refugiadas na Europa, quando os requerentes de asilo são recebidos com políticas desumanas e a distinção de “nós versus eles” ganha cada vez maior importância (8). Temos uma crise de desumanização e alienamento das pessoas refugiadas, que desculpabiliza a violação dos seus direitos humanos e da sua dignidade humana. Não é uma crise de refugiados. É uma crise de solidariedade.
Na visão de António Guterres, é essencial reconhecer a complexidade da problemática; na sua opinião não existirá uma solução nos próximos 50 anos (3). Contudo, questiono se não existirá uma negligência por parte dos governos europeus em construir mecanismos de partilha de responsabilidade no acolhimento de pessoas refugiadas ou na existência de rotas seguras; sabendo que existem estratégias estudadas por académicos há mais de 20 anos (9). Contrastando a forma como a Europa acolheu as pessoas refugiadas ucranianas, Nima acredita que a solução para parar as mortes no Mediterrâneo, retirar a oportunidade a smugglers e acolher pessoas refugiadas, é precisamente permitir a todos os requerentes de asilo o acesso ao visto (5).
Neste “momento decisivo”, que a intervenção humanitária é suficiente para evitar a “morte”, mas insuficiente para levar à “cura”, que mecanismos e ações devem ser adotados para nos aproximar de pessoas refugiadas e nos distanciar da “crise de refugiados”?
“Catástrofe de saúde mental”
Além de uma crise de direitos humanos e de ameaça à dignidade da pessoa humana, existe também uma “catástrofe de saúde mental” (10). A experiência de migração forçada pode-se associar a um contexto de guerra, de discriminação ou de perseguição individual ou coletiva, resultando em experiências com stress ou trauma psicológico. Dr. Essam Daod, fundador da Humanity Crew, defende que tal catástrofe é algo que nos afetará a todos. Cláudia refere ter regressado de Calais, França, com emoções em segundo grau não processadas devido ao contacto direto e repetido com histórias de deslocação forçada (4). Luís Palha afastou-se drasticamente da área de refugiados, pois a sua experiência marcou-o de tal forma que apenas regressou à mesma área passados 5 anos (3). Histórias que ficam com eles, que na sua complexidade têm a magia, o terror e tudo o que se encontra no meio.
Baillot et al. argumentam que o trauma pode ser contagioso em contexto de asilo, mostrando a associação do stress pós-traumático secundário (e burnout) com o contexto laboral de contacto direto com histórias de pessoas refugiadas (11). Existe, porém, alguma diferença notória entre as experiências de Luís e Cláudia e a experiência de Nima.
Justificado pelas diferentes experiências de vida e a árdua travessia para a Europa, Nima observa uma maior resiliência em voluntários que experienciaram deslocação forçada. Reconhece, ainda, que quando começou a ter uma qualidade de vida melhor do que a maioria das pessoas refugiadas e mais distante do campo de refugiados, os problemas de outros começaram a afetá-lo mais (5). Nima, na sua entrevista, questiona se os voluntários europeus estariam preparados emocional e psicologicamente para o trabalho no terreno com pessoas refugiados. Nota que uma situação que lhe parecia o “normal” para o contexto de um campo de refugiados tinha um grande impacto nos voluntários europeus, e acrescenta ainda que os voluntários com os quais manteve contacto, após a sua experiência de voluntariado, sofreram episódios depressivos no regresso. Porém, numa segunda experiência a resiliência dos voluntários europeus tornava-se maior. Em voluntários refugiados, Nima observa um efeito positivo no seu bem-estar, acreditando que o envolvimento de pessoas refugiadas em voluntariado pode ser uma mais-valia.
O voluntariado pode ser uma ferramenta para apoiar as pessoas refugiadas no sistema de asilo, permitindo-lhes oportunidades de emprego e desenvolvimento de competências. Refletindo no conceito de crescimento pós-traumático (12), nuns o trauma transforma-se em resiliência, noutros poderia, se houvesse intervenção precoce pensada no bem-estar mental. A velha história da lotaria genética – e circunstancial.
Onde os serviços de apoio à saúde mental são escassos para os recipientes, como podemos proteger a saúde mental daqueles que, de um lugar de privilégio, vão voluntariar o seu tempo? Onde devemos priorizar os recursos? Que mudanças seriam necessárias na intervenção humanitária para termos voluntários psicologicamente capazes e uma assistência psicológica eficiente para os requerentes de asilo?
A ida: motivações e gestão de expetativas
Em 2015, estima-se que 1,3 milhões de pessoas fizeram a travessia, por terra ou pelo mar, para a Grécia e Itália. Destas, 3,7 mil pessoas não atingiram as costas, tendo ficado no fundo do mar Mediterrâneo (13).
Luís e Cláudia, confrontados por estas circunstâncias, procuraram mover-se no sentido de receber as pessoas que chegavam e eram impedidas de recomeçar as suas vidas por processos burocráticos e anos à espera do reconhecimento do seu pedido de asilo. Por ter recebido uma educação católica e ter uma relação próxima com os Jesuítas, Luís embarca em 2016 para Atenas com a JRS, lembrando a premissa com a qual cresceu: “ajudar o outro que precisa”. Desde os 13 anos que Cláudia faz voluntariado, vendo como um passo natural em 2016 ir “ajudar um bocadinho” no campo de pessoas refugiadas em Calais. Com um sentimento de solidariedade, Cláudia não pode deixar de pensar que “amanhã posso ser eu”, odiando que ela e a sua família fossem recebidos como segunda classe de cidadãos pela Europa. No processo de iniciar o voluntariado, ambos foram confrontados com o síndrome de salvador (ou white saviours syndrome), tendo de reajustar as suas expetativas, reconhecendo a importância de trabalho em armazém e de atividades lúdicas (ou cuidar da espera) (3, 4).
Iniciando atividades de voluntariado em Samos em 2018, Nima reconhece que a sua primeira motivação era preencher o seu dia enquanto esperava que o seu pedido de asilo fosse processado e reconhecido. Como ativista no Irão, sempre teve a vontade de ajudar e este caso não foi diferente. Além disso, ao ver pessoas de todo o mundo a virem para Samos apoiar as pessoas refugiadas, sentiu uma responsabilidade de contribuir também. A voluntariar, contrariamente às suas expetativas, percebeu que existiam diferenças sistemáticas entre os voluntários europeus e não europeus, que se fizeram sentir nas pequenas e grandes coisas (5).
“Cuidar da espera”
Luís Palha refere que a base do seu trabalho em Atenas era o “cuidar da espera”. Após o fecho das fronteiras na Europa, milhares de pessoas ficaram presas na Grécia à espera da resolução de um procedimento altamente burocrático: o reconhecimento do seu pedido de asilo. Luís descreve a angústia das pessoas porque “[n]a chegada a um novo país vêm-se presos nele, à espera que lhes seja dado um documento, que demora muito tempo a ser processado, e só com esse documento é que lhes é permitido trabalhar de uma forma legal”. Assim, o trabalho da JRS neste centro de acolhimento em Atenas era o de cuidar desta demorada espera. Por um lado, não existia nada que Luís e a sua equipa pudessem fazer para remover as pessoas desta situação. Por outro lado, “[n]este cuidado diário dos refugiados existe sempre algo que se pode fazer […]”.
“O sofrimento derivado do saber que “Eu posso estar a fazer mais”, mas também saber que “Eu não consigo mais”. Se se dá cada vez mais o que se pode dar, entra-se em burnout muito rapidamente.”, Luís Palha (3)

Rotas para a Europa e o fecho das fronteiras em 2016 ©DW
Futuro das Grassroots
As grassroots foram um tópico muito discutido, tanto com o Nima como com a Cláudia, pois ambos trabalharam com este tipo de organizações. Grassroots são organizações de dimensões menores criadas pela sociedade civil para criar mudança a nível local, nacional ou internacional (14).
Cláudia, olhando para as políticas de bem-estar geral e mental das grassroots reconhece que há uma baixa preocupação com a mesma, dado que “[a] estrutura é baseada na premissa de que o staff não fique muito tempo.” (4). Enquanto coordenadora, Cláudia apelava à necessidade de criação de uma posição de Wellfare Coordinator que teria como função garantir o bem-estar dos voluntários no terreno, essencial para uma assistência humanitária eficiente, responsável e segura para os recipientes. Ficaria por responder, se as grassroots, através de políticas de bem-estar mental, teriam oportunidade de receber voluntários durante mais tempo e, desta forma, efetuar uma atividade mais impactante.
Nima questiona a viabilidade das grassroots. Na ilha de Samos, quando ainda não existiam estas pequenas ONGs, o governo grego tinha a responsabilidade de assegurar as condições de vida básicas das pessoas refugiadas. No entanto, à medida que as ONGs se foram instalando e iniciando operações semelhantes à do governo, este deixou de achar que teria uma responsabilidade para com os requerentes de asilo. Ao início havia muito material para ser distribuído, mas, à medida que mais requerentes de asilo foram chegando, estes recursos escassearam. Nima vê estas instituições apenas lá para distraírem as pessoas refugiadas da sua própria realidade, mas acredita que estas ONGs poderiam ter um papel importante no empoderamento e em proporcionar competências se criassem oportunidades de trabalho para as pessoas refugiadas, ao invés de recorrerem a voluntários internacionais.
Voluntariado e Saúde Mental
Durante a condução das entrevistas, procurei compreender quais os mecanismos de coping utilizados pelos voluntários face aos desafios enfrentados no trabalho com pessoas refugiadas; que, se algum, sistemas de suporte tinham e que papel teve no bem-estar dos voluntários. Surgiu ainda, na entrevista do Luís e da Claúdia, um tema comum, em que ambos experienciaram uma dificuldade em abordar temáticas relacionadas com refugiados com pessoas que desconheciam da mesma (3, 4).
Mecanismos de coping
Em Calais e na Grécia, Cláudia descreve um ambiente de stress psicológico generalizado, muitas vezes associado a mecanismos de coping mal adaptativos como álcool e tabaco. Refere, ainda, uma prevalência de burnout e esgotamento psicológico, que consequentemente tornava os voluntários um risco na segurança e eficiência da assistência humanitária (4).
“Muita gente em Calais não estava bem psicologicamente. Havia pessoas que estavam bêbadas todos os dias. Na minha opinião, o uso de álcool é um mecanismo de processamento muito perigoso. Ao fim de uns dias e de alguns meses, começa realmente a afetar. Era o ambiente perfeito para o burnout.” – Cláudia Sabença, (4).
Tal como Cláudia na Sérvia, onde começou a passar os tempos livres em atividades lúdicas, Nima “desligava” quando chegava a casa e aproveitava para socializar com os amigos e família de forma a distrair-se do seu trabalho, porém isso “não quer[ia] dizer que não deixava de ver o que se passava à volta” (5). Além disso, Nima ao observar resultados no seu trabalho como coordenador obtinha alguma gratificação.
Luís, já em Portugal no JRS, reconheceu que precisava de uma carga de trabalho que permitisse obter equilíbrio entre o trabalho e a vida pessoal, pois “Não é um sprint, é uma maratona, é necessário desacelerar o passo. Eu preciso de ir a um ritmo que me permita aguentar durante muito tempo”. Recorreu à flexibilidade de horário e ao autocuidado para garantir o seu bem-estar e o seu trabalho contínuo.
Rede de apoio e espaço seguro
“Lá vem ela estragar o jantar”, diziam a Cláudia quando começava a falar de uma pessoa refugiada que tinha conhecido. A relutância quando abordavam o tema das pessoas refugiadas levou Cláudia e Luís a experienciar algum tipo de isolamento entre eles e outras pessoas que desconheciam o trabalho com pessoas refugiadas (3, 4).
Quando regressou de Calais, Cláudia não se sentia compreendida porque “as pessoas não tinham visto” aquilo que ela tinha, e reparava que, facilmente, se abstraía de conversas. Já, quando regressou da Grécia, apesar das suas interações sociais normalizarem, ao não partilhar totalmente a sua experiência, sentiu que em parte se afastou das pessoas a um nível emocional (4).
Luís refere a dificuldade que é falar das suas preocupações laborais num contexto social, limitando-se a, se questionado, referir informações básicas, daquilo já presente nos noticiários sobre refugiados (5).
Motivados ou não por estas interações, os voluntários, pareciam recorrer para desabafar as suas frustrações a quem os compreendia melhor. Luís procurava um apoio religioso e apoiava-se nos que conheciam as implicações do seu trabalho de modo a encontrar alguma tranquilidade num ambiente desafiante. Cláudia falava com as pessoas com quem construiu amizades durante o voluntariado, mesmo já estando no seu ambiente familiar em Portugal. Nima apoiava-se nos seus melhores amigos quando experienciava frustrações no seu trabalho de voluntariado e com as organizações com quem trabalhava (3, 4, 5).
Tanto Luís e Cláudia referem a importância da existência de um espaço em que possam desabafar sobre o seu trabalho, notando a importância de recorrer a colegas que trabalham na mesma área. Porém, um constante distanciamento entre o seu trabalho e as suas relações não afetará a sua proximidade social com outros? Como podemos nós, redes de apoio, ser mais abertos à criação de espaços seguros para aqueles que enfrentam grandes desafios laborais?
Conselhos para um futuro voluntário
No final de cada entrevista, questionei os voluntários sobre os conselhos que dariam a quem estivesse a pensar ir numa experiência de voluntariado com pessoas refugiadas. Compilei as seguintes recomendações:
- Procurar conhecer o contexto sociocultural das pessoas refugiadas;
- Realizar pesquisa sobre o local e a organização na qual se pretende fazer voluntariado. Tentar falar com pessoas que já tenham trabalhado no mesmo sítio, pois conhecem a realidade e como melhor desenvolver a preparação para integrar o projeto;
- Refletir sobre que tipo de tarefas e posição serão mais adequadas para o perfil de cada pessoa, tentando que tenham o maior impacto e que necessitem de menor formação;
- Reconhecer que “não se vai salvar o mundo”. A posição de salvador, também conhecido como white saviour complex, é lesiva para o próprio e para as pessoas que se procura apoiar. O trabalho que se irá realizar será apenas uma peça de um grande puzzle, a ação humanitária depende de muitas partes e o voluntário é uma delas. Além disso, esta mentalidade pode aumentar as dinâmicas de desequilíbrio de poder e retirar agência às pessoas refugiadas.
“Resumindo, tentar ter preparação, manter a mente aberta e trabalhar com humildade (muita, muita humildade)”, Cláudia Sabença (4).
Conclusão
O tema das pessoas refugiadas na Europa é apenas uma gota de água no oceano que é a população migrante. O artigo focou-se nos Refugiados na Europa porque é onde os voluntários estiveram e o local que nos é fisicamente mais próximo. Porém, é importante compreender a ótica mundial das pessoas refugiadas, reconhecendo que apenas 10 países no mundo (maioria de baixo rendimento) acolhem 60% das pessoas refugiadas a nível mundial. Os países (de alto rendimento) do globo norte acolhem 15% de requerentes de asilo a nível mundial, mas usam 4x mais fundos do que a ACNUR tem disponível para os 85% dos refugiados acolhidos em países de baixo rendimento (15).
As migrações e as pessoas refugiadas são um tema cada vez mais crucial nos dias de hoje, envolvendo dinâmicas de poder estabelecidas desde os tempos da colonização, logísticas de assistência humanitária extremamente complexas e relações interculturais desafiantes. É um sector, que muitas vezes pela sua urgência, esquece-se da saúde mental por não parecer uma prioridade. Porém, esta tem grandes impactos na qualidade da assistência humanitária, por parte dos trabalhadores, e na saúde e qualidade de vida das pessoas refugiadas.
Os recursos são muitas vezes limitados, as estratégias pouco desenvolvidas e no final torna-se complicado chegar a uma gestão adequada, pois num lugar e num mundo onde o desequilíbrio e a desigualdade prevalecem, como pode o trabalho humanitário sozinho mecanizar um equilíbrio? Qual é o preço a pagar por dinâmicas de poder já institucionalizadas?
Metodologia
Em Abril de 2022, foram conduzidas 3 entrevistas a pessoas que realizaram voluntariado com pessoas refugiadas. As perguntas foram preparadas de forma semiestruturada, com um intuito exploratório, procurou focar-se na saúde mental dos voluntários antes, durante e após o período de voluntariado. Procurou-se também perceber como as condições deste voluntariado afetaram a saúde mental dos voluntários. As entrevistas foram realizadas pela ordem (3), (4), (5), porém as perguntas são independentes e sem qualquer interligação entre as entrevistas. Duas pessoas de origem portuguesa; e uma pessoa de origem iraniana, tendo obtido estatuto de refugiado na Europa. Duas entrevistas incluem pessoas do género masculino e uma do género feminino. A entrevista (5) foi conduzida em inglês, pelo que a tradução foi feita por mim (Carolina Veloso). As entrevistas duraram, em média, uma hora, tendo sido posteriormente transcritas e editadas de forma a facilitar uma leitura coerente e clara. As três pessoas entrevistadas autorizaram a publicação e divulgação da versão final escrita das entrevistas na plataforma da Revista Frontal.
Glossário:
Refugiado – A pessoas que se encontram fora do seu país de origem por receio de perseguição, conflito, violência generalizada ou outras circunstâncias que tenham perturbado gravemente a ordem pública e que, por isso, necessitam de proteção internacional. A definição legal de refugiado encontra-se na Convenção de 1951 e nos instrumentos regionais relativos aos refugiados, bem como no Estatuto do ACNUR. (Fonte: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados)
Grassroots – Organizações grassroots (GROs) são compostas maioritariamente por civis com atividade de advocacia de forma a causar mudança local, nacional ou internacional. Têm como base uma abordagem baseada na comunidade para a resolução de problemas localizados. (Fonte: Alto Comissariado das Nações Unidas para os Refugiados)
ACNUR – Alto-comissariado das Nações Unidas para os Refugiados
Smuggler – a pessoa que smuggles algo (ou alguém). (Smuggles: importar ou exportar algo (ou alguém) em violação da legislação aduaneira) (Fonte: Merriam-Webster Dictionary)
Emoções em segundo grau (também definida como emoção vicária) – Emoções causadas pela expressão de emoções de outra pessoa. Ou seja, a experiência emocional vicária manifesta-se quando a emoção não surge numa experiência em primeira pessoa. (Fonte: Brunsteins, 2018)
Requerentes de asilo – Pessoa que esteja fora do seu país de origem e solicita, num outro país, proteção por receio de perseguição ou outras violações graves de direitos humanos, mas que ainda não tenha sido reconhecido legalmente como refugiado e está a aguardar uma decisão do seu pedido de asilo. (Fonte: Amnesty International)
Agradecimentos
Ao Luís Palha, Cláudia Sabença e Nima Moradi pelo seu tempo, disponibilidade e partilha da sua experiência.
À Rosário Frada pela orientação, revisão, persistência e muita paciência em todo o processo.
À Equipa da Revista Frontal pela revisão, atenção prestada e fornecimento de uma plataforma de divulgação.
Aos amigos e família pelo apoio, orientação e paciência no percurso do desenvolvimento da entrevista
Referências:
- UNHCR. Staff well-being and mental health in UNHCR. Report, 2016. https://www.unhcr.org/media/staff-well-being-and-mental-health-unhcr-survey-report-2016
- WHO. Depression and Other Common Mental Health Disorders, Global Estimates. Report, 2017. https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2-eng.pdf
- Palha, Luís. Virar do avesso com Luís Palha – histórias de voluntários no sector dos refugiados e o seu caminho pelo bem-estar mental. Entrevista concedida a Carolina Veloso. 2022, Revista Frontal. https://revistafrontal.com/entrevistas-2/virar-do-avesso-com-luis-palha/
- Sabença, Cláudia. Virar do avesso com Cláudia Sabença – histórias de voluntários no sector dos refugiados e o seu caminho pelo bem-estar mental. Entrevista concedida a Carolina Veloso. 2022, Revista Frontal. https://revistafrontal.com/entrevistas-2/virar-do-avesso-com-claudia-sabenca/
- Moradi, Nima. Virar do avesso com Nima Moradi – histórias de voluntários no sector dos refugiados e o seu caminho pelo bem-estar mental. Entrevista concedida a Carolina Veloso. 2022, Revista Frontal. https://revistafrontal.com/entrevistas-2/virar-do-avesso-com-claudia-sabenca/
- Ministério Público. Convenção Relativa ao Estatuto de Refugiado. Capítulo I, Artigo n°1. https://gddc.ministeriopublico.pt/sites/default/files/documentos/instrumentos/convencao_relativa_estatuto_refugiados.pdf
- Ciberdúvidas da Língua Portuguesa, https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/consultorio/perguntas/a-etimologia-da-palavra-crise/28974 [consultado em 19-11-2022]
- Alcalde, Javier. Why the refugee crisis is not a refugee crisis. 2016. Peace in Progress. 29. 1-9. Google Scholar
- The Ethics Centre. James C. Hathaway on the 1951 Refugee Convention, Video. 2017. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=p9dYwmnBphs
- TED. How we can bring mental health support to refugees | Essam Daod, Video. 2018. YouTube. https://www.youtube.com/watch?v=0g0S34XE2b8
- Baillot et al. Second-hand Emotion? Exploring the Contagion and Impact of Trauma and Distress in the Asylum Law Context. Journal of Law and Society. 2013. Volume 40. Issue 4. Pages 509-540. https://doi.org/10.1111/j.1467-6478.2013.00639.x
- Tedeschi, R. G., & Calhoun, L. G. (1995). Trauma and Transformation: Growing in the Aftermath of Suffering. Thousand Oaks, CA: Sage. http://dx.doi.org/10.4135/9781483326931
- PAR. https://www.refugiados.pt/crise-dos-refugiados/ consultado a 14 de Outubro de 2023.
- UNHCR. https://www.unhcr.org/innovation/grassroots-organizations-are-just-as-important-as-seed-money-for-innovation/ consultado a 14 de Outubro de 2023
- Hathaway, James C. The Global Cop-Out on Refugees. International Journal of Refugee Law. Volume 30, Issue 4, December 2018, Pages 591–604, https://doi.org/10.1093/ijrl/eey062

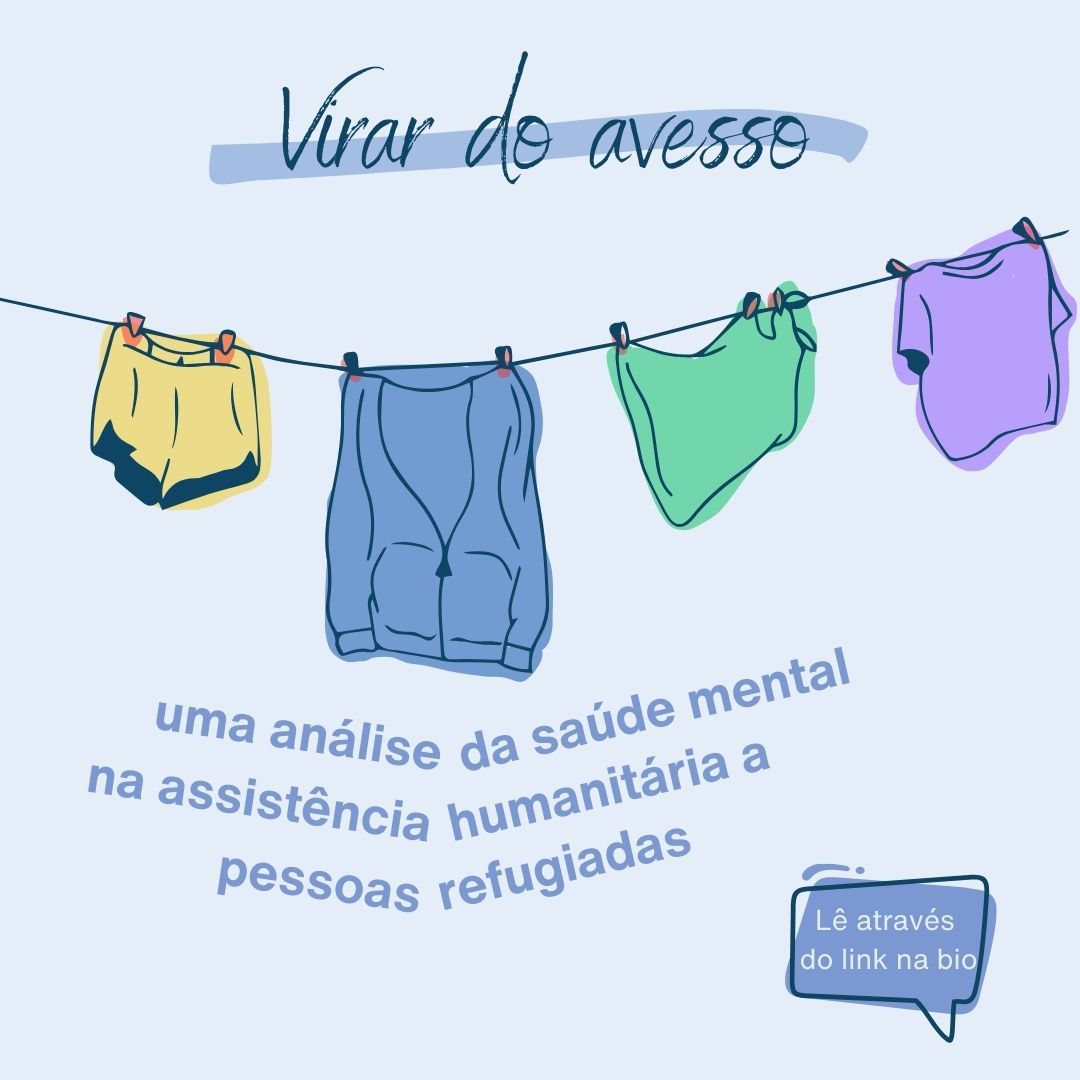
Deixe um comentário